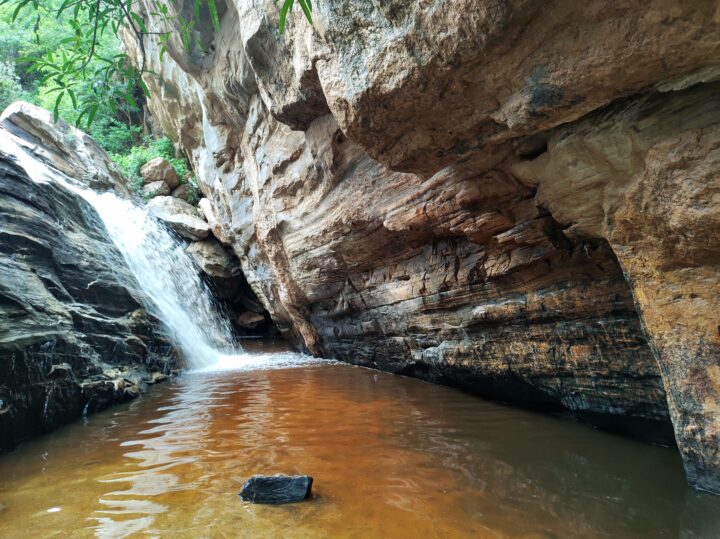Nesta semana, aturdida por tragédias públicas e privadas, li entrevista do psicólogo Christian Dunker sobre o massacre aos alunos da escola pública Raul Brasil, de Suzano-SP. Na sua fala, o que mais me chamou a atenção foi ter apontado para o comportamento narcisista dos atiradores, a preocupação com o sucesso da performance – botas, roupas, máscaras, armas exóticas, fotos antes do “espetáculo” nas redes sociais, e a certeza de que estavam sendo filmados, pois conheciam a escola, da qual foram alunos – para a construção da imagem de heróis que o ato lhes renderia.
Se havia tanta preocupação com a performance, me pareceu óbvio que havia um público a quem dirigiam suas ações, e, até aquele momento, eu não entendia quem seria. Não demorou, vieram as informações sobre a participação dos dois atiradores em grupos de conversa na chamada dark web ou deep web (o submundo da internet, onde não se pode identificar o IP, a localização dos usuários), conhecidos por serem criados e frequentados por sujeitos homofóbicos, misóginos, racistas e pedófilos (entre outros adjetivos). O “heroísmo” da ação seria, então, destinado a comover esse público. E, pelo que se soube depois pela imprensa, parece ter alcançado seu objetivo.
Mas, na minha percepção, ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça: a identificação do inimigo. Seria a escola? Os colegas? O “sistema”? Muitos sinais foram deixados como mensagem: a agressividade das roupas, as botas de combate, a máscara de caveira dos “supremacistas” brancos (no rosto moreno do rapaz genuinamente brasileiro, ou seja, miscigenado)... mas os alvos também foram muitos: mulheres, homens, adolescentes, adultos, pessoas sem religião identificada, pessoas de várias etnias... afinal, quem seria o inimigo?
A tosse e as dores no corpo da virose pós-carnaval, aliadas a um drama pessoal em andamento contribuíam para que a confusão no meu raciocínio aumentasse. Nas telas do computador e da tv, um novo rosto aparecia ligado a um outro atentado brutal, desta feita, na longínqua Nova Zelândia. Não pude de imediato me ocupar com a desgraça da hora. Minhas razões pessoais me comprimiam e roubavam de mim a atenção que tenho para o mundo. Somente depois do desfecho do enredo que me tomava, pude ler as notícias e ver as imagens produzidas pelo próprio australiano e “supremacista” branco, enquanto matava covardemente homens, mulheres e crianças muçulmanas ocupadas com suas preces e encurraladas dentro de duas mesquitas.
O australiano também se valeu da internet profunda para planejar e distribuir fartamente as imagens de sua performance violenta para o mundo e, especialmente, para seus iguais. No seu caso, o inimigo era claro: pessoas de outra cultura (muçulmanos) com os quais ele disputava território, quer seja na Oceania, quer seja nas terras de seus ancestrais, o Reino Unido. E a clareza no objeto da ira do australiano deixava, para mim, o objeto dos nossos brasileirinhos ainda mais confuso.
Diante de tanta dor e incompreensão das coisas que estava sendo obrigada a viver, precisei ir ao cinema. Esse hábito de tirar a atenção da minha vida por duas horas já me salvou algumas vezes de enlouquecer. Fui assistir ao blockbuster Capitã Marvel. Fui ver como o discurso feminista tinha sido aproveitado pelo mainstream. Cheio de efeitos visuais e sonoros, com muitos atores premiados, com a presença à la Hitchcock de Stan Lee e com um roteiro bem feitinho, o filme cumpriu sua missão de me deixar “no modo avião” por um tempo. Mas durante a projeção, não deixei de fazer mentalmente a observação: “nossa, eles nunca perdem uma oportunidade de saudar sua bandeira e sua nação”. Me pareceu uma “pachecagem”, como nós brasileiros diríamos, exaltar a bandeira americana, mesmo estando sob o tacão do Trump. Mas, confesso, acostumada que estou ao gesto por parte dos norte-americanos e decidida a não pensar muito, deixei passar. Precisei tossir muito, perder mais algum tempo na internet e assistir a outras bobagens da Marvel (agora, série) para a “pachecagem” da Capitã fazer minha ficha cair. Os norte-americanos, ganhando a II Guerra Mundial, perdendo a Guerra do Vietnam, tendo eleito Obama ou tendo eleito Trump, nunca alteram sua autoestima elevada.
Entre nós, sinto que a autoestima que, em geral, é muito baixa e – apesar de alguns surtos, como durante as Copas do Mundo, por exemplo – só faz diminuir a cada vitória. Parece que os séculos de opressão colonialista nos convenceram de que não somos dignos de nosso paraíso ou dos nossos sonhos. A ideia que embasa o comportamento de muitos protagonistas de atos brutais que temos visto ultimamente contra nossa noção de civilidade e sociedade é a de que, por nossa culpa (e pode substituir essa palavra por indolência, preguiça, miscigenação e outras...), não fomos colonizados por algum povo de maior valor que os portugueses, aos quais rebaixam categoricamente. Aos expulsarmos os franceses do Rio e do Maranhão; os holandeses, do Nordeste; por não conseguirmos que os ingleses ficassem por aqui, não somos hoje iguais aos europeus ou aos norte americanos, esse, sim, ideal supremo! Estaria no nosso passado (nunca no presente) e nos nossos modos de ser as raízes dos problemas econômicos, políticos e sociais que nos devoram desde sempre.
Essa imagem construída a nosso respeito – os incapazes, os va-ga-bun-dos, os preguiçosos que não deveriam nem ser donos das terras que ocupam há séculos – têm sido rejeitada por uns, mas acatadas por muitos. Talvez por isso é que “nossos terroristas mirins” quando foram à carga, escolheram como alvo gente igual a eles próprios: jovens, miscigenados, classe média trabalhadora, moradores de uma cidade periférica da grande metrópole. E talvez pelos problemas com a sua origem, o ataque tenha começado pelas figuras do tio/pai e da coordenadora/mãe. A escola talvez tenha sido usada como palco e alvo por que é lá onde somos obrigados, ao aprender a História, a Geografia, a Matemática, a Filosofia, a nos deparar com a nossa comunidade de origem e de destino, ou seja, sobre nossa igualdade. Os paladinos imberbes, confusos com tantas imagens conflitantes, desejando dar uma lição, atacaram o espelho.
No susto, tentamos atribuir a insanidade do ato à rebeldia natural da juventude, aos abusos do uso da internet e dos jogos, à falta disso ou ao excesso daquilo na vida ou na educação dos jovens. No entanto, temos visto muito mais gente tomando atitudes contra si ultimamente, e nem sempre são jovens assim como esses rapazes de Suzano. Os policiais que agridem outros funcionários públicos que estão na rua reivindicando melhoria de salário e condições de trabalhos; a professora que, por não querer votar no partido do professor, diz ter votado no banqueiro; a moça que escreveu um livro contra a luta das feministas; o LGBT que votou em homofóbico, e tantos outros brasileiros que conhecemos, não estariam também atirando no espelho?
Não existe “SE” na História, dizia uma velha professora da UFBA quando algum aluno perguntava: “E se os holandeses não tivessem sido expulsos?” ou “E se Napoleão não tivesse invadido Portugal?”. Precisamos aceitar nossa história sem os “SE” que nela colocaram. Temos um país-continente que não estava vazio quando foi invadido, lá pelos séculos XV, XVI.... Dessas e de outras invasões, nasceu a nação mestiça que somos, às vezes pacífica, às vezes feroz. Temos criatividade, inteligência e capacidade para construir nosso próprio destino e precisamos urgentemente acreditar nisso e desacreditar as outras falas que produzem sobre nós um efeito punitivo e até de autoimolação. Bonita ou feia, a imagem que vemos no espelho somos nós. E principalmente: não precisamos que ninguém confirme ou concorde com isso. Só assim, de posse da nossa imagem (ou identidade), poderemos fazer escolhas mais adequadas aos nossos desejos e necessidades. E poderemos viver em paz com o espelho e com nós mesmos.
Dedico este texto ao amigo queridíssimo, professor de medicina, médico dedicado que trabalhou por anos no Adolescentro - Brasília, Dr. José Domingues dos Santos Júnior, com quem eu teria discutido sobre esses e outros fatos do nosso país se a vida tivesse nos dado mais tempo.